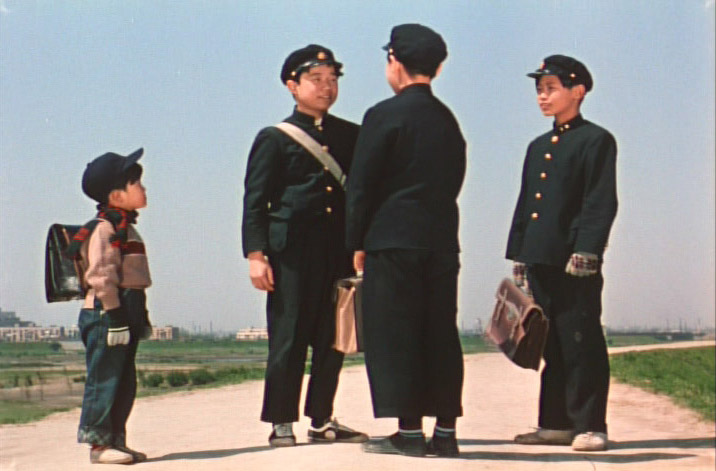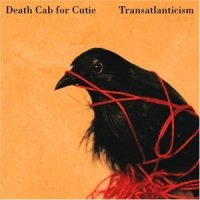O barraco não sente o barro do tijolo, apenas o barro que faz a taipa. Um tijolo é abandonado na calçada da desesperança, quebra-se o barro, volta-se à terra, nasce o tronco, da madeira a mesa, cheia de agonias sufocantes, o pão mofado, podre, a sala escura na noite do inverno e o odor acre do rio moribundo, atolado nos dejetos e desejos naufragados. De volta à sala, cortina entre cozinha e quarto, o pó da taipa e da palha, a náusea do pó, ao pó finalmente voltar.
Um cômodo, feito dois, cinco a viver, corpos magros, a cidade os consome, prédios que arranham o céu, mas cortam profundamente o que está abaixo. Colossos modernos subjugam o ser de taipa, sempre a beber da podridão de um leito intragável até às vistas, enquanto aqueles se banham em mares azuis, vêem os biquínis, iates, a glória venenosa de uma manhã igual a anterior.
O rio sujo, a amoralidade cheirando a esgoto e doença, balas que voam, sem saber o porquê, encontram um corpo para se alojar, o sopro se esvai, o corpo não agüenta, um corpo negro, o sangue vermelho jorra na taipa, marcando a parede do barraco de um cômodo. Entre quatro paredes de taipa cinco habitavam, o sangue que escorre anuncia a matemática sombria, a subtração. A sala escura e fria, tudo igual, como tudo deve ser. O rio podre, podre como deve ser, não se compadece, morre, mata, e lava o sangue.
O choro da família decepada não tem a mesma força do rio, não lava o sangue, não lava a taipa suja. O solo acolhe o corpo deformado, a bala já está tranqüila, a terra recebe seu divino presente, carne e ossos de 16 anos, esperança de vermes. O barraco, como tantos outros iguais a ele, derrotado pelos colossos, continua o mesmo, sujo, empoeirado, frio, a banhar-se em águas pesadas, melancólicas, não se altera ante a presença da senhora de preto e cajado na mão, o alívio do desespero modorrento dos que trafegam pelo rio, dos que se abrigam sob seu teto de palha.
O algoz tranqüilo desce a rua, para longe daquele barraco, em direção a outro, impassível como aquele. O barraco ensangüentado aumenta de tamanho, a sala escura aumenta, sem se iluminar, sem confortar os quatro corpos que abriga, quatro desesperanças que afundam, mas nunca alcançam o fundo, sempre a serem pisadas pelos arranha-céus.
A morte não abala o barraco, mas o sangue quente e jovem o batiza, o sangue que é lavado pelas águas podres do rio, seu eterno companheiro sob um céu límpido, arrasta consigo algo intangível, escondido aos olhares curiosos. Antes, um garoto procurava o barraco para abrigar-se da chuva, que entrava pela palha por goteiras, mas era o suficiente para o corpo magro, corpo que jaz inerte, sem vida, toda a esperança abandonada. Agora, o barraco não o terá sob suas paredes de taipa, nem sua janela, sua única janela, o mostrará a esperança do pôr do sol, o anúncio que o dia fica para trás e um novo chegará em breve, que poderá ser diferente.
E mais uma manhã se descortina. Os vermes já fazem seu mórbido labor, a terra recebe a morte, a transforma em vida, dá vida ao tronco, traz a madeira, ergue mais um barraco, entre milhares, que se multiplicam, ao leito morto do rio. O barraco batizado pelo sangue culpado não é o único. Outros se juntam a ele na eterna dança entre a vida e a morte, e assistem a divina comédia humana de camarote, no morro das aflições contínuas.
Mal serve de abrigo, mas abriga, precariamente, os corpos obrigados a viver sob um céu arranhado, sobre um solo imundo, na decadência da mínima razão, ao arredio da dignidade.
E o barraco continua, sempre lá, junto às angústias de seus habitantes, do rio sufocante, dos que ainda vivem, dos que sobrevivem, dos que morrem, dos que são mortos. O barraco se transforma com o sangue que escorreu de sua parede, mas continua o mesmo a abrigar corpos que mal cabem em seu interior, a abrigar a miséria de vidas que não chegam em lugar algum, sufocadas pela própria existência no barraco, pela própria existência do barraco, causa e conseqüência dos desejos frustrados, dos sonhos malogrados.
Transforma-se então em símbolo a ser odiado e amado. E, na eterna dança, o barraco se equilibra, e seus quatro habitantes levantam-se para mais um dia de expectativas frustradas, à cata do lixo que é seu luxo, sem luto, mas com pesar, enquanto o barraco continuará lá, sem desejos ou esperanças, um expectador passivo da demência ao seu redor.